Atualmente, num ambiente midiático tão farto e promissor, é preciso separar o joio do trigo e desconfiar da pesada indústria cultural de Hollywood, responsável por tantas maravilhas artísticas, mas também por derrapagens estéticas e ideológicas. Miramos o cinema espanhol, num momento solene em que O Jardineiro Espanhol, do brasileiro Fernando Meirelles, é indicado para concorrer como melhor filme no Festival Goya, considerado o “oscar espanhol”. Espreitando o cinema percebemos os paradoxos, as contradições, o vigor e a exuberância da cultura espanhola.
Falando em cinema espanhol, passagens obrigatórias são os filmes consagrados do mestre Luis Buñuel, cuja obra representa uma contestação dos dogmas repressivos do cristianismo, por exemplo, em Nazarin (1959), Viridiana (1961), Tristana (1970), e uma subversão radical dos valores burgueses, como se mostra em O anjo exterminador (1962), O discreto charme da burguesia (1972), O fantasma da liberdade (1974). Buñuel é um dos responsáveis pelo nascimento de um novo olhar sobre as artes, na sociedade industrial, através de um corte simbólico no olho ocidental, em Um cão andaluz (1930) e se manteve lúcido durante o grande susto da Europa com os atentados terroristas, a partir dos anos 70, como mostra a cena explosiva no final da película Esse obscuro objeto do desejo (1977).
As raízes ibéricas se revelam com grande força estética no cinema de Carlos Saura, um cineasta lendário, que se caracteriza pela narrativa alegórica traduzindo esteticamente as tensões dos “40 anos” de ditadura do General Franco (1936-1975), como mostram Ana e os lobos (1973), Cria Cuervos (1976) e Mamãe faz cem anos (1979). Contudo, o cinema de Saura não se restringe ao engajamento político; a magnitude de sua expressão estética se desvela nos processos intertextuais que promove, usando a música, o teatro e, sobretudo, a dança, conforme atestam Bodas de Sangue (1981), Carmen (1983), Flamenco (1995) e Tango (1998). A sua clarividência persiste aos 73 anos, como atesta o filme Buñuel e a mesa do rei Salomão (2001), uma homenagem aos grandes arcanos da cultura espanhola, na virtualidade de um encontro formidável entre Buñuel, Salvador Dali e Garcia Lorca.
Hoje, Pedro Almodóvar é certamente o cineasta mais prestigiado da Espanha. O seu primeiro filme - Luci, Pepi, bon e outras moças do bairro (1980) - coincide com o nascimento da democracia, num país marcado pela repressão católica, extremamente machista e patriarcal. Os seus filmes são ácidos e iconoclastas: Labirinto de paixões (1982), Maus hábitos (1983), O que fiz para merecer isto? (1984), Matador (1986), A Lei do Desejo (1987) são exageradamente kitsch, transgressivos e apresentam uma estética que incorpora o grotesco e o escatológico. Mas será com Mulheres à beira de um ataque dos nervos (1988) que vai ultrapassar o circuito alternativo e conquistar o mercado internacional, prosseguindo com Àtame (1990), De salto alto (1991), Kika (1993) e A Flor do meu segredo (1995). Segundo os especialistas do cinema e “fãs” da obra almodovariana, a partir daí, os seus filmes serão mais comportados, como indicam Carne trémula (1997), Todo sobre minha mãe (1999), Fale com ela (2002) e A má educação (2004); todavia Almodóvar persiste como o cineasta que deu uma sacudida no conservadorismo espanhol, colocando o país no mapa mundi globalizado da grande arte cinematográfica.
Contudo, existe uma “quarta geração” de cineastas espanhóis, como Alejandro Amenábar - oscar de filme estrangeiro com Mar Adentro (2004) - autor de filmes esplêndidos como o pós-moderno Preso na Escuridão (1997), que tem versão americana com Tom Cruise (Vanila Sky, 2001), mas o seu filme mais conhecido no Brasil é Os outros (2001), com a atriz Nicole Kidman. Há aqueles que, mesmo no contexto da globalização cultural, definem um estilo específico de arte e subjetividade (como Julio Meden, autor de Os amantes do círculo polar e Lúcia e o sexo). Encontramos também cineastas críticos, inconformistas, contestadores que assumem o seu métier como um exercício de arte engajada nas causas sociais (como Fernando León de Aranoa, enfocando o problema do desemprego no norte da Espanha, em Segunda Feira ao Sol). Convém lembrar igualmente os cineastas empenhados na politização do cotidiano, por meio de uma estética intimista (como Icíar Bollain, denunciando a violência contra a mulher, em Dou-te meus olhos). Há cineastas veteranos, que embora sem ocupar um lugar de destaque no mercado internacional, deixaram um trabalho vigoroso, como Víctor Erice, O espírito da colméia (1973) e o maldito Alex de la Iglesia, diretor de O dia da besta (1995), Perdita Durando (1997) e 800 balas (2002), autor de um cinema neogótico, escabroso, radical.
O fato é que o cinema espanhol parece estar “na ordem do dia”, como comprova o delicioso Albergue Espanhol (Cédric Klapisch, 2003), uma produção franco-espanhola, que desnuda o cotidiano de uma tribo de jovens de nacionalidades diferentes, partilhando uma comunidade estudantil, em Barcelona. O cinema espanhol “está na moda” não apenas pela nova constelação de astros e estrelas como António Banderas, Vitória Abril, Javier Barden, Penélope Cruz, Eduardo Noriega e Benício Del Toro, mas a própria cena espanhola está na tela, como mostra o filme O Lobo (Michel Courtois, 2004), decifrando astuciosamente a dimensão explosiva do ETA (Grupo Separatista Basco), no novo (des)concerto da Comunidade Européia.
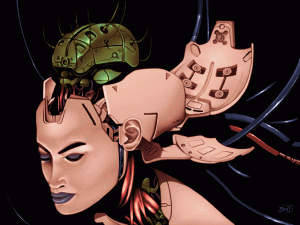
Nenhum comentário:
Postar um comentário